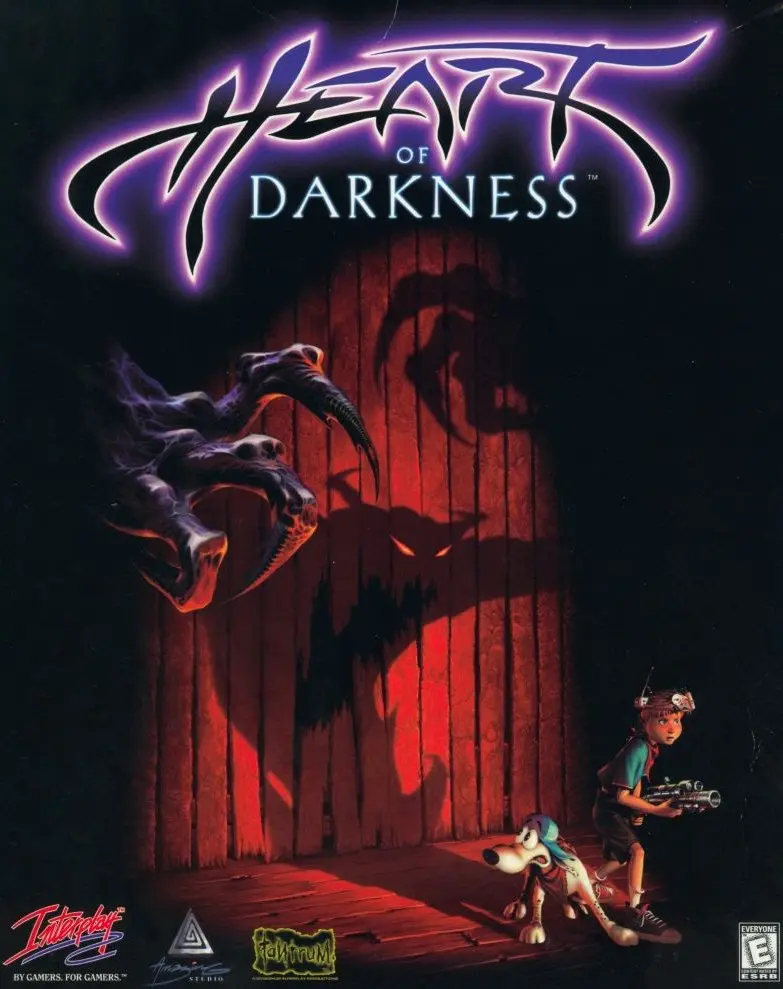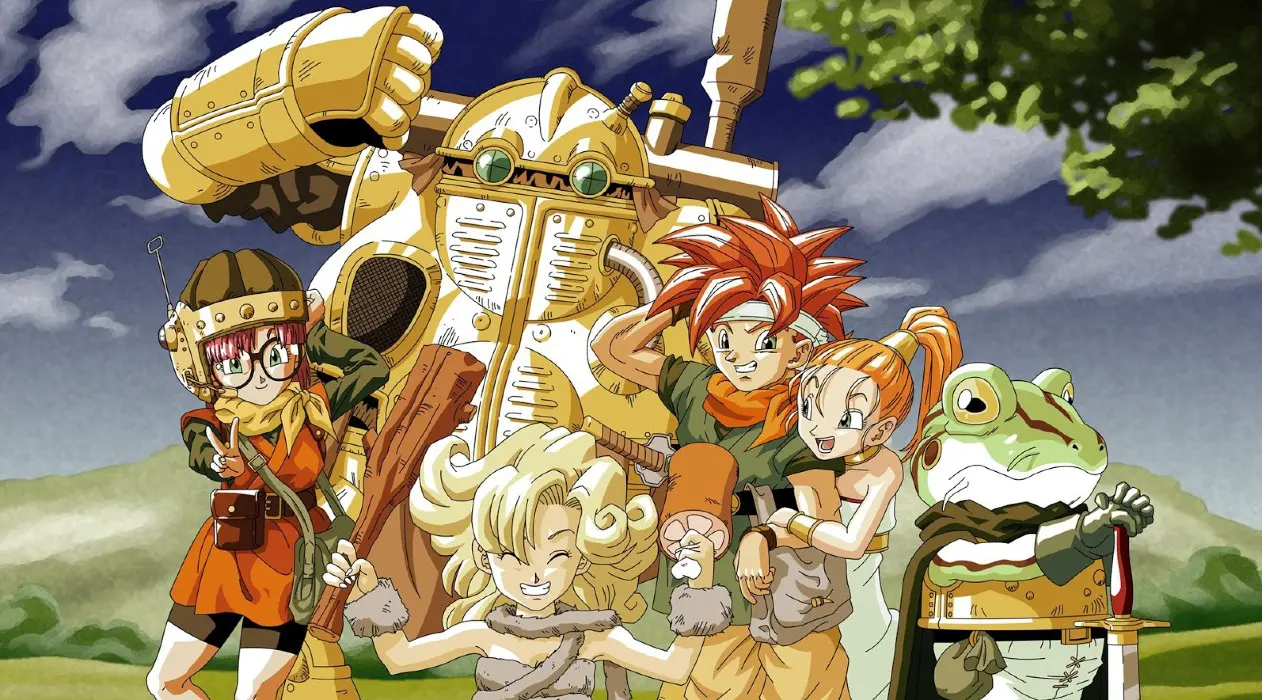Memória afetiva: por que enxergamos jogos do passado como superiores?
Por que enxergamos os jogos antigos como superiores aos atuais?
A memória, enquanto instrumento de opinião, exerce papel fundamental na sociedade. É graças a ela que historiadores, catalogadores, jornalistas, bibliotecários, pesquisadores, cientistas e quaisquer outros profissionais da informação – ou de qualquer área, na verdade – conseguem criar relações entre passado, presente e futuro, de maneira coesiva ou não.
Há um componente alojado num local do cérebro, o hipocampo, em que as memórias são organizadas com base em acontecimentos vivenciados, seja por meio de um contato visual, auditivo, tátil ou experimental. Ou, em última instância, como resultado dessa soma. Um estudo feito em 2015 pela Universidade de Ohio, nos EUA, apontou que alguém, ao se lembrar de uma situação passada, “aciona” diversas partes do cérebro, com memórias de diferentes tipos armazenadas em padrões específicos dentro do hipocampo.
E assim funcionamos na escola, no trabalho, na família, nos amigos, nas viagens, nos shows, nos passeios, nos livros: aprendemos coisas, criamos memórias delas, forjamos elos com o passado, nos conectamos ao conhecimento e à sabedoria. Os games, no epicentro disso, são parte de nossas vidas, e as lembranças nascidas deles costumam ditar nossa visão do presente e do futuro – e de maneira inconsciente.
Forjada na eternidade
Os termos “nostalgia” e “saudosismo” andam de mãos dadas. Diria que são quase sinônimos, porém, na ocasião de alguém me perguntar se existem diferenças conceituais entre eles, eu apontaria o saudosista como persona que dificilmente se desvencilha do passado, colocando-o acima de qualquer preceito atual, enquanto o nostálgico consegue o desprendimento, mas só o faz a partir de uma memória afetiva, sempre à sombra dela.
É absolutamente comum ver um sujeito falar “ah, mas no meu tempo era melhor”, em inúmeros contextos. Seja nos filmes, nos modos de vida, nos hábitos triviais ou na bolha dos games. É uma relação forjada na eternidade, na memória de outrora, naquilo que construímos numa época áurea e fértil da vida.
Afinal, tudo que é novo é fértil; ficamos vulneráveis ao mundo que nos cerca e por ele somos influenciados por todo o sempre. Toda e qualquer forja iniciada no período infanto-juvenil de nossas vidas tem um significado diferente no hipocampo, o alojamento do cérebro responsável por catalogar memórias. Esse é o intervalo da vida em que as memórias afetivas são criadas. É quando ciclos incríveis e inesquecíveis acontecem, carregados por grandes histórias que levamos conosco às bolhas, aos bares e a qualquer outra prosa.
A falsa ideia de superioridade do passado – ou seria verdadeira?
Às vezes, tudo é uma questão de percepção. Ao indagar alguém sobre um jogo, podemos reclamar da quantidade de textos, da repetição, das fórmulas pasteurizadas ou da exagerada complexidade de mecânicas. Antes, a velha máxima da publicidade “menos é mais” funcionava sem que percebêssemos; hoje, os indies conseguem dar esse fôlego através do minimalismo e são idolatrados por isso (com razão).
Aqui, existe uma série de variantes que podem mexer com nossa linha de pensamento. Primeiro: com tantas décadas de videogames, muitas fórmulas foram exaustivamente exploradas – em luta, mundo aberto, ação, RPG, corrida, Souls, qualquer gênero –, dando um espaço cada vez menor para ideias que surpreendam.
Segundo: com esse excesso de coisas que jogamos e internalizamos, estando cada vez mais expostos a ideias repetidas, cansamos. E fica uma pergunta cabalística: os jogos perderam a capacidade de surpreender ou NÓS que perdemos tal capacidade?
Terceiro: o que era ótimo antes pode ser defasado hoje, mas jamais em nossa memória afetiva. Em papos sobre o passado, sempre levanto questões nostálgicas: cadê Syphon Filter? A Bend Studio realmente entregou um sucessor espiritual com Days Gone (que é da mesma equipe)? E vem o rebote: mas faz sentido ter um Syphon Filter hoje? Será que, sei lá, Uncharted não teria suprido essa carência? Ou Splinter Cell? Ou inúmeros jogos de ação em terceira pessoa
O mesmo vale para Heart of Darkness e tantos outros clássicos noventistas da Interplay. Numa devassa de minha coleção, a reação emocional é sempre igual: eu ainda almejo um Heart of Darkness 2 ou pelo menos sonho com a ideia de que ele poderia ter sido lançado em sua época de adequação. É o famoso estado de “memória afetiva pelo que não existiu”.
Mas aí, no lado racional da moeda, levanto o questionamento anterior: faz sentido ter um Heart of Darkness 2 hoje, ainda que adaptado? Talvez aos moldes do que Oddworld: New ‘n’ Tasty fez em tributo a Abe’s Oddysee, gema do PS1, e Soulstorm faz agora em relação a Abe’s Exoddus?
A reflexão macro que trago aqui é: será que essa percepção de superioridade que temos em relação aos jogos antigos se deve a um problema técnico mesmo, algo que precisa ser corrigido, ou ao fato de estarmos “sacudos”, tomados pela memória afetiva das obras do passado, ainda que de forma inconsciente?
Uma dicotomia
Querendo ou não, somos apegados ao passado. Infelizmente, nossa memória não é como o armazenamento de um computador, videogame, celular ou qualquer outro dispositivo tecnológico, em que alguém deleta o que bem entender e quando quiser.
As memórias humanas são perenes; surgem como rebotes no crânio, dentro e fora de nosso controle. Não conseguimos apagá-las por livre e espontânea vontade. Elas simplesmente estão ali e só saem quando nosso cérebro assim desejar. Quando nós cultivamos essas lembranças, erguendo-as como pilares ou modelos de um produto que funciona, nossa percepção é automaticamente alterada.
Especificamente no caso da marca PlayStation, presente na vida de muitos de nós desde os anos 90 (ingressou em 1997 na minha história), a comunicação trabalha exatamente em cima desse ponto: ela enaltece as experiências do passado, as franquias que nasceram na família PlayStation, ganharam asas e alçaram voo em outras plataformas, bem como os nomes próprios da casa – leia-se exclusivos –, com os quais inúmeros jogadores cresceram.
O mesmo vale para Xbox e Nintendo, cada qual com seu legado. Há quem prefira infinitamente o PS2 em relação ao PS4; há quem tache o PS3 de patinho feio do conjunto; há quem endeuse o Xbox 360 sobre qualquer outro Xbox; há quem coroe o Super Nintendo como console supremo da Nintendo; há quem pregue a palavra da Sega em todos os âmbitos possíveis. E há quem discorde disso tudo. Certos ou errados? Não. Discurso saudosista? Talvez. Opinião de cada um? Com certeza.
Da mesma forma que alimentamos a ideia de que “não há mais RPGs como nos tempos de ouro de Square e Super Nintendo ou PS1/PS2”, devemos entender que, na verdade, eles existem sim, e estão integrando a memória afetiva de uma nova geração de jogadores, que têm a idade e a vivacidade que um dia tivemos. O ser humano gosta de dicotomias e, às vezes, tem dificuldade em enxergar que duas coisas diferentes podem caminhar juntas sem que uma conflite com a outra.
É bom ou ruim para quem?
Sou da geração Super Nintendo-Mega Drive, com um rabicho de Master System e Nintendinho, no finalzinho deles. Os jogadores que chegaram antes de mim, hoje aos seus 35-45 anos, potencialmente têm consoles como Atari e Jaguar em sua memória de infância/adolescência. Para eles, por pressuposto, existe um entendimento de supremacia direcionada a esses tempos – sem jamais desamparar os grandes jogos superproduzidos do presente.
É claro que isso não é regra universal para todos os perfis de consumidores. Estamos falando daqueles que criam um elo sentimental com os jogos e não os vislumbram como meros produtos de entretenimento.
Por isso que há quem idolatre Super Mario World como o melhor Mario de todos os tempos, bem como existem os que julgam Super Mario 64 por ter “envelhecido mal” – mas por consolidar, à época em que saiu, o gameplay do gênero ao qual pertence. Esse reconhecimento geralmente é um consenso, assim como o 3D normalmente envelhece mais rápido que o 2D.
E há, oras, quem não tenha jogado Super Mario World no mesmo contexto de vida que esse dito jogador. Há quem seja de uma geração posterior e tenha conhecido o mascote por meio de outrem, sem o mesmo impacto. Há quem o tenha experimentado após tomar ciência da importância do jogo e há quem coloque Super Mario Bros. 3 à frente de World. É bom ou ruim para quem? Pessoas mais velhas? Mais novas? Um “tanto faz” cairia bem aqui, porque, no final do dia, a peneira vai desembocar em opinião.
A relação sentimental que criamos pode, por vezes, embaçar nosso julgamento. É por isso que tendemos – os mais nostálgicos e saudosistas, especialmente – a supervalorizar os títulos de outrora perante os atuais: estamos todos tão expostos a tantos títulos, a inúmeras experiências de todos os tipos, nos indies ou nos AAAs, no PlayStation ou na Nintendo, no PC ou no Xbox, que simplesmente “enjoamos” dos jogos de hoje, e aí botamos o passado à frente do presente e do futuro. Esse é um sintoma normal; o que não podemos deixar de lado é o discernimento para igualmente identificar o salto tecnológico e os mundos imersivos que as experiências atuais conseguem entregar.
Enxergamos os jogos antigos como superiores porque a capacidade de um game surpreender hoje é um desafio cada vez maior aos estúdios em atividade. E já largo a bomba aqui: conforme você envelhece, esse sentimento só aumenta. Não é para todos, não é uma regra universal, mas é algo ligado à memória afetiva. E é parte da natureza humana. Como diria o Sr. Smith, de Matrix, a Neo: “É inevitável”.
App MeuPS
Gostou deste conteúdo? Ele chegou primeiro ao aplicativo do MeuPlayStation. Por lá, há outras coisas bem legais como: biblioteca de jogos, notificações inteligentes, estatísticas sobre jogos, promoções e muito mais. Baixe agora: